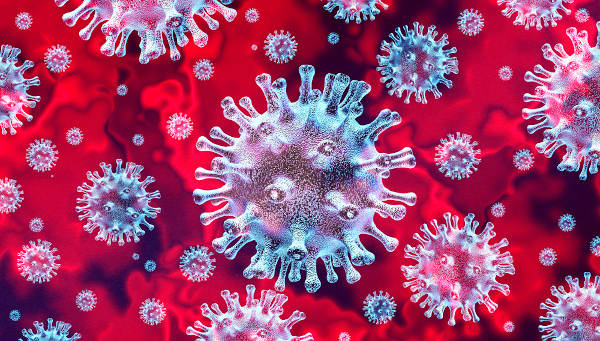
Â
Suzana Herculano-Houzel
NASHVILLE (EUA)
Considerar como sistemas biológicos mudam ou não de escala quando crescem é minha especialidade.
Â
Modelos matemáticos e previsões de expansão são parte do meu kit de ferramentas de trabalho. Tenho satisfação em enxergar padrões e relações que outros não veem, e em particula r, de atentar para como equação no papel é uma coisa â e um Godzilla do tamanho de um arranha-céu é teoricamente viável â, mas em seres vivos e sistemas complexos, os limites prosaicos da fÃsica, da capacidade biológica ou simplesmente de horas no dia impõem barreiras que ignoram solenemente nossos cálculos (no caso, mesmo que um cérebro de uma tonelada não fosse esmagado pelo seu próprio peso, não haveria energia que chegasse para alimentar um Godzilla por um dia sequer).
Â
Pois eu cometi justamente esse erro ao comparar a Covid-19 a âuma gripeâ, duas semanas atrás, resmungando comigo mesma quando a Universidade Vanderbilt mandou os alunos embora, antes de todo mundo fazer o mesmo.
Â
Dada a comparação, minha e de tantos outros, a medida tomada me pareceu um exagero, acelerado por um componente de autopreservação pelo medo de sofrer "internet shaming" e litÃgio âsem falar no impacto econômico que já se anunciava.
Â
Se nos casos de infecção por um ou outro vÃrus a chance de morte é bastante pequena (menos de 2%, dependendo da estatÃstica) e concentrada nos idosos, por que não simplesmente isolar os idosos e assegurar-lhes infraestrutura para atravessar a tempestade em segurança?
Â
Porque isso não eliminaria a fonte do problema maior, que não é biológico ou infeccioso, e sim de ordem social, incrustado na fragilidade do nosso mundo construÃdo: a capacidade do sistema de saúde, feito para dias normais em que doentes são uma pequena minoria. Esquecer de levar em conta essa limitação do sistema foi minha mancada número 1.
Â
Minha mancada número 2 não estava na comparação com gripe, mas em um detalhe de outra forma irrelevante: o artigo indefinido âumaâ, pois a Covid-19 não é mais um tipo de algo que já existe, e sim uma doença nova. A combinação dos dois fatores â doença nova encontra limite de ordem social â é explosiva.
Â
Como suponho que meu erro também foi o de muitos outros, permitam-me elaborar sobre a dimensão do problema.
Â
De acordo com o Beckerâs Hospital Review de 2014, há nos EUA 2,6 leitos disponÃveis por cada mil habitantes, com uma taxa média de ocupação de 61%. No Brasil, segundo relatório da Fiocruz, eram ainda menos em 2017: 1,7 leitos por mil habitantes, com uma taxa de ocupação que varia dos 60% para cima.
Â
Assim, com os cerca de 200 milhões de habitantes no Brasil, podem-se estimar uns 340 mil leitos no total â dos quais no máximo uns generosos 40%, ou 136 mil, estão em média vagos a cada momento. Até aqui, tudo bem.
Â
O que chamamos de âgripeâ é hoje em dia uma virose comum, no sentido de corriqueira: grande parte da população já foi exposta a ela, seja por vacina ou infecção. Portanto, apenas uma pequena fração da população contrai a doença a cada ano â cerca de 8%, segundo o Centro de Controle de Doenças dos EUA.
Â
Dessas, cerca de 0,1% morre. Em uma população de 200 milhões, como o Brasil, seriam 16 mil mortes por gripe em um ano. Com 136 mil leitos vagos a cada momento, dá em princÃpio para absorver de uma vez só 8,5 pacientes com gripe para cada um que morrerá no hospital, mesmo que todos ao mesmo tempo.
Â
Se a Covid-19 for dez vezes tão letal quanto uma gripe, seriam 160 mil mortes esperadas no Brasil no ano. Se fossem todas concentradas no mesmo momento, caracterÃstica de uma epidemia, todos aqueles 136 mil leitos hospitalares não ocupados por outros pacientes mal acomodariam cada infectado moribundo, o que dirá todos os demais lutando por ar como peixes fora dâágua. Já é um quadro ruim o suficiente.
Â
Mas, como felizmente me lembrei a tempo, a Covid-19 não é âumaâ gripe, no sentido de mais uma variação da doença que já conhecemos e à qual temos imunidade adquirida, mas uma doença nova causada por um vÃrus novo ao qual absolutamente nenhuma pessoa no planeta tinha adquirido imunidade quando o primeiro humano foi infectado.
Â
Como é bastante contagiosa, não é impensável que toda a população rapidamente seja contagiada. O que é bem possÃvel: na época da gripe espanhola, o contágio era galopante, mas, em tempos modernos, ele anda de avião. Sem vacina, uma estimativa conservadora de 80% de contágio faz aquele número esperado de mortes por Covid-19 lá de cima pular para 1,6 milhão de pessoas âmais de dez pessoas, em média, por leito vago, caso todas adoeçam ao mesmo tempo.
Â
Se os pacientes que sucumbem forem 1 em 5 que precisarem de cuidados hospitalares, seriam 50 pessoas disputando um único leito vago. Nesse caso, é claro, não seria surpresa alguma o número de mortos aumentar ainda mais por falta de cuidados médicos.
Â
E note: ainda nem entramos no mérito da decorrente falta de cuidados médicos para os infartados, diabéticos, asmáticos, hipertensos, acidentados e doentes de toda sorte, que continuam precisando de socorro, mas agora padecem da competição desleal da nova doença e ainda são prejudicados nos modelos por aquelas outras limitações que costumam ser esquecidas na matemática: a preferência dada aos mais jovens em caso de falta de leitos hospitalares, as apenas 24 horas do dia, a impossibilidade de cada médico(a) e enfermeiro(a) estar em dois lugares ao mesmo tempo, a indivisibilidade da atenção humana que só dá conta de uma coisa de cada vez, a falta de máscaras para proteger os cuidadores e mantê-los na ativa, a dificuldade de importar reagentes em tempo hábil e por preço razoável, a falta de jovens cientistas ativos e prontos para serem realocados para pesquisar tratamentos e vacinas em vez de esperar que a salvação venha, mais uma vez, do estrangeiro.
Â
Donde minha contrição pública, que faço desavergonhadamente, pois admitir que se estava errado é uma habilidade que cientistas aprendem a cultivar e pela qual muito prezo. Em primeiro lugar, porque é assim que se aprende e é como a ciência funciona: cada nova descoberta corrige ao menos um erro ou deficiência anterior.
Â
Em segundo lugar, além de admitir o erro imediatamente sempre ser a coisa certa a se fazer para poder se corrigir o curso e se andar para a frente, descobrir-se errado é sinal de que novos dados se tornaram disponÃveis â como um fator não considerado, um detalhe esquecido, ou, melhor ainda, um novo fato. E a ciência é, por excelência, feita de fatos, ainda que guiados inicialmente por opiniões.
Â
à por isso que precisamos de dados para descobrirmos onde mais estamos errando. Quanto mais dados, melhor, já que ainda não sabemos completamente com o que estamos lidando.
Â
Está aÃ, aliás, é outro erro a consertar: muitos desses dados necessários para conseguir espalhar os casos ao longo do tempo, âachatar a curvaâ e reduzir o tamanho do estrago só podem ser coletados com testes em massa da população em todo e qualquer estado de saúde, e não somente dos doentes.
Â
PossÃveis cenários da epidemia
Â
Comportamento usual da epidemia
Â
O tempo para se atingir o pico de infectados é incerto
Â
⢠Pequenos acontecimentos no inÃcio podem influenciar a dinâmica
Â
⢠A forma de contato entre as pessoas pode variar
Â
⢠A localidade pode ajudar ou atrapalhar a disseminação do vÃrus
Â
Â
Â
Epidemia controlada com distanciamento social
Â
Ajuda a diminuir a altura da curva
Â
Â
Â
Epidemia controlada, mas medidas de contenção suspensas
Â
Há risco de ressurgimento da epidemia em alguns meses
Â
Somente sabendo o número de infectados, sintomáticos e sobretudo assintomáticos e como esse número progride e responde a quarentena, isolamento social, hidroxicloroquina ou o que mais pudermos inventar é que saberemos a real dimensão do problema. Confirmar que um paciente com todos os sinais clÃnicos do Covid-19 de fato tem o vÃrus é importante para as estatÃsticas, mas a insuficiência respiratória é a mesma, premente e letal, com ou sem o teste.
Â
Num mundo em que é mais comum chefes de estado enviarem suas preces do que tomarem ações bem informadas, minha alma de cientista se sentiu vingada, três semanas atrás, pelo subtÃtulo de uma coluna no New York Times sobre como o coronavÃrus é o que acontece quando se ignora a ciência: âCientistas são tudo o que nos restou. Rezem por elesâ, dizia a linha-fina acima da imagem mandatória de um cientista de jaleco, pipeta e tubos coloridos em mãos. âOremos agora pela ciência, pelo empiricismo, por vacinas, por estudos revisados por pares, estudos duplo-cego (...), razão, rigor e expertiseâ, escreveu o autor, o colunista Farhad Manjoo.
Â
Adorei a ironia. Mas não, por favor não rezem pelos cientistas. Deem graças aos que ficaram no paÃs, não importa se por opção ou falta dela, e façam melhor: deem-lhes condições de trabalhar.
Â
Fonte: Folha de SP

